Dono do Hotel Glória tinha campo de concentração no Brasil.
Nos anos 1930, rancho em São Paulo era um campo de trabalhos forçados repleto de suásticas
É década de 1930 no Brasil. Um time de futebol com jogadores negros ostenta uma bandeira com o Cruzeiro do Sul — e a suástica nazista. O gado da fazenda está marcado com o mesmo símbolo. Um retrato de Hitler está na parede do casarão. A foto do tal time foi encontrada na fazenda Cruzeiro do Sul, cujo nome explica a constelação que a nomeia. Mas e a suástica?
Campina do Monte Alegre é uma cidade de 5.000 pessoas, no interior de São Paulo. Ali, o rancheiro José Ricardo Rosa Maciel, o Tatão, descobriu um segredo que ficou escondido por 70 anos. “Eu cuidava dos porcos numa casa antiga. Um dia, eles quebraram uma parede e escaparam. Notei que os tijolos tinham caído. Foi um choque enorme.” Os tijolos tinham a marca da suástica. A parceira de Tatão, Senhorinha Barreta da Silva, estudava na Universidade de São Paulo e levou uma das peças para seu professor de história, Dr. Sidney Aguilar Filho.
“Fui até a fazenda, onde encontrei uma profusão de insígnias com a suástica, não só nos tijolos, mas em fotografias da época, marcas nos animais, bandeiras. Também achei uma história paralela sobre a transferência de 50 meninos de dez anos que foram tirados de um orfanato no Rio de Janeiro e levados para Campina do Monte Alegre em 1933. Nessas duas histórias, estava a presença da ideologia nazista”, afirma Aguilar Filho.
Depois de oito anos de pesquisa, apresentou em
“Minha pesquisa se focou em que sociedade era essa, que Brasil era esse?”, explica Aguilar Filho. “Era uma cultura extremamente racista e preconceituosa. Na geração seguinte à abolição da escravatura, a estética era extremamente marcada pelo racismo. Com os olhos de hoje, é muito chocante”, diz Aguilar Filho.
EUGENIA BRASILEIRA
O artigo 138 da Constituição da época estabelecia que era função do Estado promover educação baseada em crenças eugênicas, ele aponta. No fim dos anos
Aloysio da Silva e Argemiro dos Santos estavam na primeira leva. “Eles relatam um tratamento muito rígido, sujeito a punição física, sem permissão para deixar a fazenda sozinhos ou sem autorização, trabalho intensivo, com pouca ou nenhuma remuneração. Aloysio se refere a uma infância roubada e fala de escravidão. Argemiro não usa a palavra, mas confirma o uso sistemático da palmatória, violência física, chicotadas e punições”, afirma Aguilar Filho.
Maurice Rocha Miranda, sobrinho bisneto de Otavio e Osvaldo, nega que as crianças fossem “escravas” e diz que sua família deixou de apoiar os nazistas muito antes da Segunda Guerra.
Mas a história dos dois sobreviventes — que nunca mais se encontraram — é curiosamente similar. Ainda vivendo perto da Cruzeiro do Sul, Aloysio, 90, relembra quando foi levado do orfanato. Com doces e “lábia”, Osvaldo disse que daria a eles uma nova vida. “Ele prometeu o mundo. Mas não era nada daquilo. Nós recebemos enxadas, uma cada. Para tirar o capim, para limpar a fazenda. Fiquei preso porque me enganaram. Fui trapaceado. Esquentou meu sangue”, diz Aloysio. Os meninos eram chamados por números. Aloysio era o 23. Dois cães de guarda mantinham os garotos comportados.
Outro sobrevivente, Argemiro dos Santos, 89, vive em Foz do Iguaçu. “Na fazenda havia fotografias de Hitler, e o tempo todo você era forçado a saudar com o ‘anauê’, a saudação alemã”, ele diz. O “anauê” era, na verdade, a saudação dos integralistas, gesto idêntico ao “sigheil” da Alemanha hitlerista. Argemiro escapou da fazenda para se juntar à Marinha, indo à Europa lutar contra o führer cujos admiradores foram seus captores.
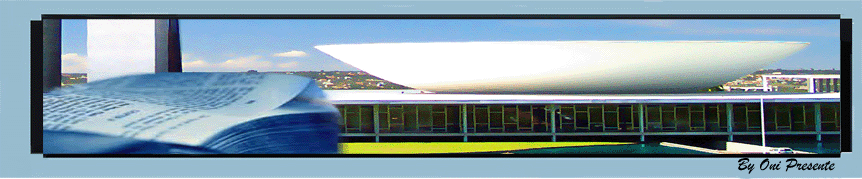



Nenhum comentário:
Postar um comentário