Publicado magistralmente no blog O BISCOITO FINO E A MASSA
Em Miami, olhei nos olhos do Brasil que perdeu (parte 1)
Um dia terei que reunir meus causos de aeroporto. Eles parecem acontecer meio aleatoriamente, mas não há como negar que eu os procuro. Se aeroportos costumam ser lugares onde não ocorre nada de importante e tudo se arrasta na brutalidade do eternamente igual, os roces ocasionais entre pessoas, línguas, religiões e nacionalidades diferentes podem produzir a faísca, a centelha de um acontecimento. Ao longo dos anos, desenvolvi um certo faro para esses estranhos lugares e aprendi a reconhecer quando se aproxima uma história.
O Brasil dos 4%, da ressentida fração da classe média que lê a Veja, do Instituto Millenium, dos três jornalões, de Ivete Sangalo, Hebe Camargo, Ali Kamel e Regina Duarte, o Brasil, enfim, da rancorosa ignorância monoglota dos bairros chiques de São Paulo encontrou-se, pessoalmente, numa sensacional disputa de bola ombro-a-ombro, com o Brasil da nova classe C do Lula, o Brasil de pele negromestiça com algum dinheirinho sobrando no bolso, o Brasil dos nordestinos que se reúnem com parentes há muito não vistos no Sul Maravilha, alguns deles já com um carrinho, outros com a casa própria, outros fazendo sua primeira viagem ao exterior, todos eles, no entanto, com sua marca registrada, que é a nova dignidade estampada no rosto.
Essa disputa de bola aconteceu na noite do dia 22 de setembro, no Aeroporto Internacional de Miami. Meninos, eu vi.
Zanzando pelos aeroportos do mundo e, em especial, do Brasil nos últimos anos, aprendi a reconhecer um novo fenômeno: o olhar de ódio, desprezo e ressentimento que os membros dos 4% dirigem ao Brasil da Nova Classe C que, segundo eles, não deveria estar lá. É um olhar carregado de história, do sinhô que se sente desrespeitado pelo batuque do escravo à madame que se sente ultrajada quando a empregada doméstica reclama seus direitos trabalhistas. Se você quer entender a onda de ódio que caracteriza a campanha da oposição e da mídia nas últimas semanas, basta mapear a frequência com que esses encontrões têm acontecido no Brasil contemporâneo.
Afinal, a Nova Classe C começou ocupar estacionamentos e saguões de aeroportos, lugares que os 4% acreditavam ser cativos seus, propriedade sua exclusiva.
O voo 927 da American Airlines, que sai de Miami rumo a Santiago, segue viagem rumo a Guarulhos, e isso explica a imensa maioria de brasileiros que se amontoava na sala de embarque na noite de 22 de setembro. Lado a lado, vi duas famílias: uma branca, dirigindo à vizinha, negromestiça, o olhar de ódio que aprendi a reconhecer. Eu havia topado com meu amigo L.T., belga de origem flamenga que, como sói ser o caso com seus compatriotas, tem uma grande facilidade para as línguas. Este dado é importante para entender o que se segue.
Decidimos nos sentar no chão, de frente para as duas famílias, e foi quando eu percebi que a hostilidade dirigida pela família branca à negromestiça não se limitava ao olhar. Acompanhavam-no com comentários do tipo tem gente que não se enxerga, feitos na cara da outra família, que tentava continuar seu próprio bate-papo enquanto circulavam entre si sua caixa de cookies adquirida, suspeitava eu (e depois comprovei que acertara), na visita a algum parente expatriado em busca de melhores oportunidades durante a era FHC. Aquilo foi me enchendo de raiva. Não demoro muito para identificar sotaques, e depois de 2 ou 3 minutos eu já havia detectado que a família branca era paulistana e a negromestiça, mineira.
L.T. e eu havíamos chegado à sala de embarque conversando em espanhol, que é uma das quatro línguas que usamos entre nós, segundo a conveniência e o humor (o português de L.T. é perfeito, com sotaque carioca e tudo). Vendo aquela agressão, e sem ânimo para um bate-boca que, com certeza, teria sido desagradável, bolei uma brincadeirinha. Poderia ter dado incrivelmente errado, mas deu certo.
A brincadeirinha com a qual L.T. e eu nos unimos à família da Nova Classe C, que terminou lavando a alma ante as agressões de membros dos 4%, na noite do dia 22 de setembro de 2010, no Aeroporto Internacional de Miami, será o tema do próximo post.
Em Miami, olhei nos olhos do Brasil que perdeu (parte 2)
Em primeiro lugar, impõe-se um comentário antes de continuar a história (se você caiu aqui do nada, leia isto primeiro). Eu não esperava todo esse surto de interesse que se gerou na caixa de comentários. Honestamente falando, o post só ficou incompleto porque já era bem tarde e eu não tinha condições físicas de escrever mais, o que eu espero que não aconteça hoje. A história, na verdade, não é tão interessante assim, portanto rebaixem as expectativas.
Em segundo lugar, à guisa de explicação aos leitores mais novos que chegam do Twitter e não conhecem a trajetória do blog, recorro ao testemunho dos leitores históricos para que fique claro que não sou do tipo de pessoa que sai dando carteiradas. Há 1.200 posts e mais de 38.000 comentários aqui, e em nenhum deles você encontrará o anfitrião dizendo tenho tal e qual título ou ganhei tal e qual prêmio. Já entrei de sola em muitas discussões, mas não com esse tipo de argumento.
Faço a ressalva porque dar uma carteirada foi exatamente o que fiz na noite do dia 22 de setembro em Miami, com a família racista típica do Brasil dos 4%. Digo isso sem orgulho nem vergonha, foi simplesmente o que aconteceu. Foi só a forma que encontrei para revidar aquela agressão que a família negromestiça vinha sofrendo ali. Tratou-se, no entanto, de uma carteirada de um tipo muito particular. Continuemos a história, pois.
Havíamos parado no momento em que eu e L.T. nos sentamos no chão, de frente para as duas famílias que ocupavam, cada uma, uns seis assentos daquelas insuportáveis salas de embarque do Aeroporto de Miami. Como dito, havíamos chegado conversando em espanhol mas, exagerando um pouco no tom de voz, eu disse a ele:
Now we're gonna have some fun. When I switch languages, you do the same, right away. [tradução livre: vamos brincar de Neymar e Ganso com esses bacacas. Mude de língua na hora em que eu mudar]
Meu amigo belga, cujo Q.I. está bem mais próximo de Goethe que de Eliane Cantanhêde, sacou imediatamente que alguma gozação viria. Pela altura da minha voz naquela frase, ele deve ter percebido que a gozação jogaria com a minha completa certeza de que eles não entenderiam, ou entenderiam precariamente, o que nós disséssemos em inglês. Foi dito e feito.
Cabe aqui uma explicação para quem não tem tantas horas de aeroporto como eu. Nada faz os racistas da República Morumbi-Leblon se transformarem de carrascos sádicos em cordeirinhos dóceis e obedientes como a chegada de um estadunidense. Qualquer um. Eles tiram a pele de lobo e adotam aquela constrangedora subserviência colonizada, estilo Celso Lafer. Como L.T. fala com perfeito sotaque do meio-oeste e o inglês é praticamente uma língua de infância para mim, o sucesso da impostura estava garantido. A ignorância da República Morumbi-Leblon é algo com o qual você sempre pode contar.
O leitor Ticão, num comentário ao post anterior, adivinhou exatamente a indumentária do chefe da família racista: jeans Yves Saint Laurent e um par de mocassins cheios de penduricalhos dourados. A senhora fazia o gênero perua, com um collant de oncinha e uma quantidade enorme de quinquilharias nos braços. O filho, de uns 20 e poucos anos, trazia seu iPod e vestia uma camisa de mangas compridas—no calor de Miami em setembro!--do São Paulo Futebol Clube. Essa camisa do Tricolor do Morumbi será importante para a continuação da história. Nos outros três assentos ocupados pela família paulistana, uma quantidade imensa de badulaques eletrônicos se amontoava, desde telas planas de computador até, incrivelmente, uma tostadeira.
A primeira frase havia chamado a atenção da família racista, mas não o suficiente. Ainda não prestavam atenção em nós. Era o que eu queria – só lançar uma primeira isca-- para ter alguns segundos e dirigir, sem que eles me vissem, olhares de cumplicidade, sorrisos e sinais de positivo com o polegar para a outra família, que a estas alturas tampouco sabia que eu era brasileiro. Depois de estabelecido esse primeiro contato de cumplicidade, fiz a eles o tradicional gesto com a palma da mão direita estendida na vertical, como quem diz deixa com a gente.
Nesse momento, no entanto, L.T. quase estragou meu plano. Ao bater os olhos na gigantesca tostadeira, ele não se conteve e começou a rir. L.T. tem uma gargalhada bem parecida com a de Sílvio Santos, então vocês imaginem. Já havíamos chamado a atenção de todo mundo. Era necessário agir rápido. Apontando para a camisa do rapaz, perguntei:
Is that a soccer jersey?
Enquanto o rapaz, em inglês balbuceante, tentava me responder, eu ia arquitetando em minha cabeça a vingança, que será narrada em detalhes na terceira e última parte desta saga.
Em segundo lugar, à guisa de explicação aos leitores mais novos que chegam do Twitter e não conhecem a trajetória do blog, recorro ao testemunho dos leitores históricos para que fique claro que não sou do tipo de pessoa que sai dando carteiradas. Há 1.200 posts e mais de 38.000 comentários aqui, e em nenhum deles você encontrará o anfitrião dizendo tenho tal e qual título ou ganhei tal e qual prêmio. Já entrei de sola em muitas discussões, mas não com esse tipo de argumento.
Faço a ressalva porque dar uma carteirada foi exatamente o que fiz na noite do dia 22 de setembro em Miami, com a família racista típica do Brasil dos 4%. Digo isso sem orgulho nem vergonha, foi simplesmente o que aconteceu. Foi só a forma que encontrei para revidar aquela agressão que a família negromestiça vinha sofrendo ali. Tratou-se, no entanto, de uma carteirada de um tipo muito particular. Continuemos a história, pois.
Havíamos parado no momento em que eu e L.T. nos sentamos no chão, de frente para as duas famílias que ocupavam, cada uma, uns seis assentos daquelas insuportáveis salas de embarque do Aeroporto de Miami. Como dito, havíamos chegado conversando em espanhol mas, exagerando um pouco no tom de voz, eu disse a ele:
Now we're gonna have some fun. When I switch languages, you do the same, right away. [tradução livre: vamos brincar de Neymar e Ganso com esses bacacas. Mude de língua na hora em que eu mudar]
Meu amigo belga, cujo Q.I. está bem mais próximo de Goethe que de Eliane Cantanhêde, sacou imediatamente que alguma gozação viria. Pela altura da minha voz naquela frase, ele deve ter percebido que a gozação jogaria com a minha completa certeza de que eles não entenderiam, ou entenderiam precariamente, o que nós disséssemos em inglês. Foi dito e feito.
Cabe aqui uma explicação para quem não tem tantas horas de aeroporto como eu. Nada faz os racistas da República Morumbi-Leblon se transformarem de carrascos sádicos em cordeirinhos dóceis e obedientes como a chegada de um estadunidense. Qualquer um. Eles tiram a pele de lobo e adotam aquela constrangedora subserviência colonizada, estilo Celso Lafer. Como L.T. fala com perfeito sotaque do meio-oeste e o inglês é praticamente uma língua de infância para mim, o sucesso da impostura estava garantido. A ignorância da República Morumbi-Leblon é algo com o qual você sempre pode contar.
O leitor Ticão, num comentário ao post anterior, adivinhou exatamente a indumentária do chefe da família racista: jeans Yves Saint Laurent e um par de mocassins cheios de penduricalhos dourados. A senhora fazia o gênero perua, com um collant de oncinha e uma quantidade enorme de quinquilharias nos braços. O filho, de uns 20 e poucos anos, trazia seu iPod e vestia uma camisa de mangas compridas—no calor de Miami em setembro!--do São Paulo Futebol Clube. Essa camisa do Tricolor do Morumbi será importante para a continuação da história. Nos outros três assentos ocupados pela família paulistana, uma quantidade imensa de badulaques eletrônicos se amontoava, desde telas planas de computador até, incrivelmente, uma tostadeira.
A primeira frase havia chamado a atenção da família racista, mas não o suficiente. Ainda não prestavam atenção em nós. Era o que eu queria – só lançar uma primeira isca-- para ter alguns segundos e dirigir, sem que eles me vissem, olhares de cumplicidade, sorrisos e sinais de positivo com o polegar para a outra família, que a estas alturas tampouco sabia que eu era brasileiro. Depois de estabelecido esse primeiro contato de cumplicidade, fiz a eles o tradicional gesto com a palma da mão direita estendida na vertical, como quem diz deixa com a gente.
Nesse momento, no entanto, L.T. quase estragou meu plano. Ao bater os olhos na gigantesca tostadeira, ele não se conteve e começou a rir. L.T. tem uma gargalhada bem parecida com a de Sílvio Santos, então vocês imaginem. Já havíamos chamado a atenção de todo mundo. Era necessário agir rápido. Apontando para a camisa do rapaz, perguntei:
Is that a soccer jersey?
Enquanto o rapaz, em inglês balbuceante, tentava me responder, eu ia arquitetando em minha cabeça a vingança, que será narrada em detalhes na terceira e última parte desta saga.
Em Miami, olhei nos olhos do Brasil que perdeu (parte 3, final)
--Is that a soccer jersey? era uma pergunta simples de se responder, mas o garoto não resistiu: começou a tentar recitar as glórias do Tricolor do Morumbi que, sabemos, são muitas. Ele não havia chegado à terceira palavra quando o pai e a mãe interromperam o que faziam para acompanhar a conversa do filho com o “americano”, com aquela cara radiante e subserviente só encontrada na República Morumbi-Leblon e nos ladinos da América Central. Ele não havia chegado à quinta palavra quando eu subitamente lhe dei as costas, como se ele não existisse, e passei a conversar de novo com L.T., que a estas alturas já havia sacado qual era a brincadeira. Enquanto o garoto ainda balbuciava e os pais nos olhavam, à espera de atenção, eu disse a L.T.:
--Is that a soccer jersey? era uma pergunta simples de se responder, mas o garoto não resistiu: começou a tentar recitar as glórias do Tricolor do Morumbi que, sabemos, são muitas. Ele não havia chegado à terceira palavra quando o pai e a mãe interromperam o que faziam para acompanhar a conversa do filho com o “americano”, com aquela cara radiante e subserviente só encontrada na República Morumbi-Leblon e nos ladinos da América Central. Ele não havia chegado à quinta palavra quando eu subitamente lhe dei as costas, como se ele não existisse, e passei a conversar de novo com L.T., que a estas alturas já havia sacado qual era a brincadeira. Enquanto o garoto ainda balbuciava e os pais nos olhavam, à espera de atenção, eu disse a L.T.:
-- Die Schuhe. Sag etwas über die Schuhe.
Meu alemão falado é horroroso, péssimo, capenga mesmo. Mas L.T. é generoso comigo sempre que—em geral animado por umas biritas—resolvo praticar um pouco com ele, que tem proficiência nativa. A mudança de língua ali tinha a função de garantir que os membros do Brasil dos 4% não entendessem que a senha agora era uma gozação aos mocassins. Emendando de bate-pronto, com os burgueses paulistanos ainda sem entender por que eu havia feito uma pergunta e lhes dado as costas, L.T. dirige um olhar ostensivo aos mocassins do sujeito, escandalosamente aponta com o dedo, vira em minha direção e diz bem alto:
-- Who wears mocassins with golden chains around them? For God's sake, where did those come from?
Eu nem precisei fazer força. O entusiasmo de L.T. era tal, sua gargalhada-Sílvio Santos tão contagiante, que eu também terminei rindo com vontade. De vez em quando, dirigíamos o olhar a eles, para que ficasse bem claro que era deles que estávamos rindo. Agora sim. Não sei se compreenderam a frase, mas com certeza começaram a entender que estávamos tirando um sarro.
Nessas horas você vê a natureza essencialmente colonizada da República Morumbi-Leblon. Se estivéssemos fazendo a mesma coisa na condição de brasileiros, a pancadaria já teria comido solta no Aeroporto de Miami. Se estivesse acontecendo em português essa brincadeira idiota (sim, sim, reconheço, era uma brincadeira babaca, grosseira e esnobe a que fazíamos, mas lembrem-se, aqueles sujeitos passaram um bom tempo ali humilhando uma família negra), a reação com certeza teria sido outra. Como éramos “gringos”, o olhar deles era simplesmente aquele sorriso meio sem graça, impotente.
A brincadeira ia encaminhando-se ao seu final, mas ainda faltava o golpe de misericórdia. Dirigindo-me ao pai da família, soltei a pergunta:
-- Where are you all from?
Essa ele me respondeu de bate-pronto:
-- Brazil.
Era a senha de que eu precisava:
-- Oh, Brazil! Do you know Sancho Santos, by any chance?
Aqui cabe uma explicação. “Sancho Santos” é uma criação da banda de rock da Carolina do Norte, Southern Culture on the Skids. A canção, se não me falha a memória, intitula-se “Viva de los Santos”. A gozação feita pela banda em seus shows alude à total ignorância do estadunidense médio acerca de tudo o que está ao sul do Rio Bravo. Sempre que se encontra com alguém da América Latina, o personagem pergunta: como vai o Sancho Santos? Em outras palavras, a banda sugere que para o gringo médio,
México ou Uruguai, Honduras ou Brasil, é tudo Sancho Santos.
Evidentemente, não há nenhum Sancho Santos para se conhecer no Brasil, mas o sensacional é que sempre que você encontra a burguesia colonizada brasileira e pergunta, em inglês, pelo Sancho Santos, eles dizem que ele vai muito bem. Não falha nunca.
-- How's Sancho Santos doing?
-- He is fine, he is fine.
L.T. já estava tendo convulsões de gargalhadas. Enquanto ele ria e preparava a facada final, eu dava as costas à família racista e me dirigia agora aos meus conterrâneos, falando com eles em tom de voz bem baixo, inaudível para a turma que estava do outro lado:
-- Boa noite, pessoal, vocês são de Minas, não são?
-- Somos, como você sabe?
-- Eu reconheci o sotaque. É parecido com o meu, sacumé. São de Belo Horizonte?
-- Sim, de BH.
-- Eu sou da Cidade Nova, e vocês?
--- Pertinho! Do Caetano Furquim.
Sim, leitores, no Brasil de Lula existem famílias do Caetano Furquim viajando ao exterior.
-- A gente viu o que estava acontecendo aqui. Queria ser solidário. Ainda faltam duas horas e meia para o voo. Eu conheço um bar/restaurante cubano aqui ao lado, muito bom. Eu e meu amigo queríamos convidá-los para tomar uma cerveja, dar um refrigerante aos meninos. Vamos?
-- A gente tem medo de perder o voo, somos novatos.
-- Deixem com a gente, não tem perigo. Tem muito tempo. É bobagem ficar em pé naquela fila que fazem, não faz diferença.
Do lado de lá, eu ouvia um L.T. ainda gargalhante dizer:
-- That's funny. I always thought that Sancho Santos didn't exist. But maybe he does.
[engraçado, sempre pensei que o Sancho Santos não existisse. Mas talvez ele exista].
[engraçado, sempre pensei que o Sancho Santos não existisse. Mas talvez ele exista].
Falando agora bem alto, em português, para que a família de racistas me ouvisse, eu disse:
-- L.T., vamos ali no La Carreta tomar uma cerveja com meus conterrâneos.
L.T., cujo português, eu já disse aqui, é impecável, respondeu:
-- Vamos sim. Isso aqui já deu.
Os racistas nos olharam estupefatos. O intercâmbio em português tinha, evidentemente, o propósito de transmitir aos racistas a única mensagem que importava transmitir ali: vocês se comportam como verdugos ante seus compatriotas negros e como cachorrinhos amestrados com qualquer gringo que apareça tirando sarro de vocês. Se havia melhor maneira de transmitir essa mensagem, ela não estava disponível pra mim naquele momento. Fiz o que deu, com os recursos que tinha.
Na saída, dirigi um olhar cheio de hostilidade e desprezo aos racistas, virei as costas, peguei na mão do garoto de 12 ou 13 anos da família belo-horizontina negromestiça e nos dirigimos todos ao La Carreta, que fica a menos de 50 metros do saguão onde estávamos. Passamos uma hora agradabilíssima, em que conversamos, inclusive, sobre as semelhanças entre as culinárias mineira e cubana.
Aos racistas mais eu não disse e mais não me foi perguntado.
Não, eu não os vi dentro do voo.
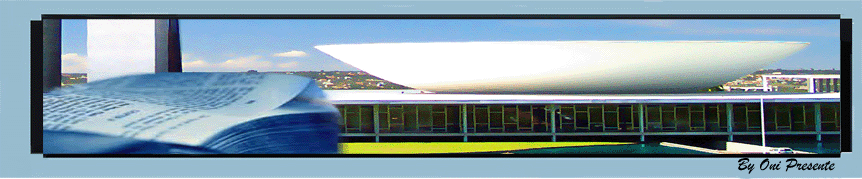
Nenhum comentário:
Postar um comentário