Integrantes do grupo que luta pelas indenizações aos perseguidos e pela punição aos torturadores afirmam que a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) dispunha de uma lista, elaborada pelos órgãos de segurança, com os nomes daqueles que não podiam ser empregados nas fábricas por sua militância.
"Hoje eles negam, mas havia uma lista negra entre a Fiesp, os sindicatos patronais e a polícia. Eu não conseguia emprego. Você tinha que mostrar sempre os antecedentes a qualquer pedido de serviço. Isso barrava sua vida profissional." Luis Cardoso era metalúrgico e estava entre os agitadores de uma greve em Osasco em 1968, poucos dias antes do AI-5, o ato institucional que acabou com últimas liberdades de um regime que começou em 1964 e só terminou no ano de 1985. Para se sustentar, Cardoso teve que migrar para a construção civil e para o Mato Grosso.
Já Francisca Soares tinha um cargo de chefia em uma agência de marketing, mas, depois de meses presa e torturada na prisão onde hoje está a estação Tiradentes do metrô de São Paulo, nunca mais pôde trabalhar na área. "Entrava em uma agência e, em poucos dias, perdia o emprego. Eles tinham consultado a lista da polícia", conta a publicitária que foi integrante do POC (Partido Operário Comunista), organização atuante principalmente dentro movimento estudantil. Francisca terminou seu curso de história e trabalhou até a aposentadoria como professora dessa matéria.
"Existia uma lista que o Dops distribuiu para as empresas, para a Fiesp. Eles não gostam de admitir, mas existia. Quando houver a abertura dos arquivos do tempo da ditadura, isso vai aparecer", afirma Artur Gonçalves, que trabalhava em uma empresa marítima britânica quando foi detido no dia 15 de janeiro de 1973. O motivo da prisão foi seu emprego à noite: ele dava aulas em um curso supletivo, uma maneira encontrada para arregimentar novos seguidores para o PCB (Partido Comunista Brasileiro).
A Fiesp afirma que não há nenhum registro em seu arquivo de documento que listasse trabalhadores que não podiam ser empregados por sua atuação política durante a ditadura. "Ou o fato não existiu ou existiu de uma forma tão sigilosa que não deixou rastro. Pesquisamos nossa documentação, e não há nada", afirmou Ricardo Viveiros, assessor de imprensa da federação das indústrias. A listagem, se ainda existe fisicamente, poderia estar com as Forças Armadas, cujos papéis da época continuam intocados. O tema é aventado desde o período autoritário, mas ressurgiu com força com a acumulação de processos indenizatórios nos últimos anos.
As histórias se sucedem. Após quase dois anos preso, o gráfico José Paiva ficou sem ser contratado de 1971 até 1985, ano da redemocratização do país. O jeito para sobreviver foi comprar uma impressora, transformar sua garagem em local de trabalho e receber encomendas.
Militante do PCB e atuante nos grupos guerrilheiros ALN (Ação Libertadora Nacional, de Carlos Marighella) e VPR (Vanguarda Popular Revolucionária, de Carlos Lamarca), Paiva imprimia certidões de nascimento para criar identidades falsas para seus companheiros de ideologia. Também fazia, entre 1964 e 1969, panfletos contra os militares. Escapou uma vez da prisão porque seu chefe o avisou que havia na entrada "uns homens armados do drops (sic)": ele escapou pelos fundos, e o patrão levou uns safanões dos agentes.
Em 1969, porém, ele caiu na mão das forças do Estado. E serviu de cobaia para a "cadeira do dragão", artefato de choque elétrico que teria sido criado pela equipe de Sérgio Paranhos Fleury, delegado do Dops. Em outra sessão de tortura teve duas costelas quebradas. Hoje recebe R$ 4.900 mensais como indenização reparatória.
Ele é um dos mais assíduos nas reuniões que acontecem todas as terças. O ritual inclui um almoço em boteco da praça da Sé, antes do encontro em pomposo salão da Secretaria de Justiça, no vizinho Pátio do Colégio. Na maioria, eles são militantes comunistas, principalmente do "Partidão" (PCB). Parte esteve na luta armada, outra não. Parte recebe as indenizações federais ou estaduais, outra não.
O fórum dos ex-presos começou a se reunir em 1998, com três objetivos: 1) pressionar por indenizações por terem sido presos, torturados e depois perseguidos profissionalmente; 2) lutar pela prisão dos torturadores, interrompendo o benefício de não serem processados que a Lei de Anistia de 1979 lhes garantiu; 3) expor para os jovens o que foi esse período da história nacional.
Em 2001, o fórum foi legalizado como entidade. No ano seguinte, o governo federal estabeleceu uma lei (número 10.559) que ampliava as indenizações que começaram a ser distribuídas na década anterior.
Ainda hoje o período divide opiniões, com os papéis de vilão e mocinho se invertendo segundo o lado de onde se viu os fatos. Por seu lado, os militares e policiais feridos em ação também recebem um ressarcimento. O que os ex-presos não admitem é a impunidade de quem aplicou tortura nos detidos pela ditadura - nos vizinhos Argentina e Uruguai, por exemplo, houve processos e prisões dos envolvidos.
O próprio governo Lula está dividido sobre o assunto: o Ministério da Justiça (Tarso Genro) e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos (Paulo Vannuchi) defendem a volta do debate pela responsabilização dos crimes de tortura, enquanto essa posição é criticada pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim. Já a AGU (Advocacia Geral da União) enviou no mês passado ao STF (Supremo Tribunal Federal) seu parecer a respeito da punição aos torturadores do período da ditadura (1964-1985) em que manteve o entendimento de que eles também são beneficiados pela Lei da Anistia.
"Justamente porque não se puniu aqueles torturadores que esse crime (a tortura) continua acontecendo nas delegacias de todo o país até nossos dias", argumenta Rafael Martinelli, 86, o presidente do fórum. Ele liderou o sindicato dos ferroviários até 1964 e foi, entre 1958 e 1962, suplente do deputado federal Menotti Del Picchia, escritor modernista que se arriscou na vida política à época.
Outro habitué do encontro que teve relacionamento com personagem famoso é Orlando Ferreira. Ele foi segurança do líder comunista Luis Carlos Prestes na virada da década de 50 para a de 60. Em um bloquinho, ele anota tudo o que é discutido na reunião. E se queixa das sequelas da prisão e da tortura. "Não durmo direito, acordo toda a noite. Fico logo assustado se passa um carro na rua ou bate uma porta durante a noite. Isso é consequência de ter sido preso quando meus filhos eram pequenos", relata.
Nos encontros que o UOL Notícias presenciou, o ex-sindicalista Jano Ribeiro circulava com fotocópias de fichas do Dops que foram desenterradas em fazenda na região de Franca (SP). Tudo para ajudar a "companheirada" que ainda não recebe a indenização. "Nesse ritmo nem os bisnetos vão receber esse dinheiro", afirma o ex-funcionário do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo que foi preso duas vezes por sua ligação com o PCB e atualmente recebe mensalmente R$ 1.380.
A queixa sobre lentidão ecoa ainda mais entre aqueles que ainda não foram beneficiados. É o caso de Artur Gonçalves. "A caravana da anistia é marketing puro. Eles estão selecionando alguns presos notáveis e pessoas ligadas ao PT ou ao governo e estão fazendo um show para a mídia", afirma. Por ter sempre trabalhado na iniciativa privada e sem atuação sindical, ele tem maior dificuldade para obter sua indenização na lei aprovada no final do governo Fernando Henrique Cardoso.
Outra que não recebe é Ieda de Seixas, cuja família foi toda detida pela ligação de seu pai, Joaquim, com o PCB e o sindicato dos petroleiros. O pai foi morto na prisão, enquanto ela (então com 24), uma irmã (de 21), um irmão (16 anos) e a mãe ficaram presos meses e submetidos à tortura. "Minha família tem um defeito crasso: tentar consertar o mundo", afirma, lembrando que dois tios também foram para a cadeia durante a ditadura anterior, a de Getúlio Vargas (1937-1945). "A sequela que fica é emocional, mas não penso em meus torturadores. Eles não são seres humanos, são monstros", desabafa Ieda.
Ela relata que reencontrou o torturador de seu pai logo após a volta da democracia (confira depoimento no vídeo acima). Era Carlos Alberto Ustra, que atendia pelo codinome "major Tibiriçá" - o militar nega seu envolvimento com o crime, apesar da série de denúncias. Outro que reencontrou o personagem do regime foi Francisco Ferreira, dirigente sindical que se juntou a Marighella na ALN durante os anos de chumbo. "Vi o Tibiriçá em uma praia de Alagoas, com dois seguranças na areia enquanto ele tomava banho de mar. Se tivesse uma metralhadora na hora, atirava neles. Mas não valeria a pena ir preso de novo por esse cara", sentencia Ferreira.
Raiva ele também sente quanto vê que a juventude pouco conhece esse passado recente do país. "Minha nora, que estuda Direito, não sabia nada dessa história. Parece que foi apagada."
Fonte: UOL
Publicado em:
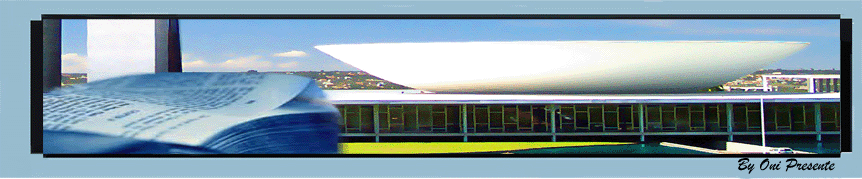
Nenhum comentário:
Postar um comentário